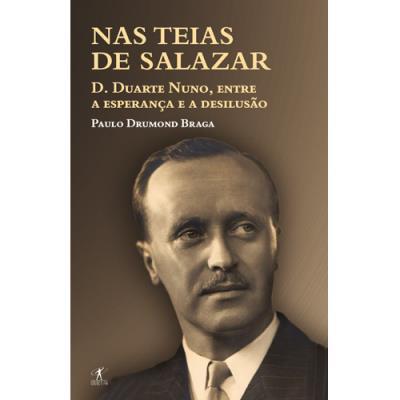No último domingo, o 29º do tempo comum, a leitura do Evangelho era lapidar sobre o que, com toda a propriedade, se poderia designar como o fundamento cristão da laicidade: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mt 22, 21).
Infelizmente, este salutar princípio não foi tido em conta por um muito infeliz acórdão do Tribunal da Relação do Porto no qual, invocando-se desastradamente a Sagrada Escritura, se pretendeu justificar um tristíssimo caso de violência doméstica.
Com efeito, a título de justificação da leve pena imposta ao marido traído, que foi também o agressor da mulher infiel, lê-se: “a conduta do arguido ocorreu num contexto de adultério praticado pela assistente. Ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem”.
É evidente que, em qualquer sociedade, o incumprimento de um dever de fidelidade é sempre grave, mais ainda se se trata de uma relação tão relevante como é a matrimonial. Mas, para a moralidade cristã, não faz sentido dizer que o incumprimento do pacto conjugal é vergonhoso e imoral quando praticado pela mulher, como se o adultério masculino não fosse igualmente grave!
O conhecido episódio bíblico da casta Susana é, a este propósito, muito significativo (cfr. Dn 13, 1-64). Instada a prevaricar com dois velhos sem escrúpulos que, em caso contrário, ameaçavam caluniar a sua pureza, a mulher de Joaquim preferiu manter-se casta, mesmo pagando com a vida a sua inocência. Graças a Deus, a providencial intervenção do jovem Daniel não só evidenciou que Susana não tinha nenhuma culpa, como provou o perjúrio dos idosos, que foram depois exemplarmente castigados.
Também o adultério do rei David, agravado pelo assassinato do general Urias, marido de sua amante, a mãe de Salomão (2Sm 11, 1-26), é uma lição bíblica de como Deus, embora punindo o adultério feminino, não castiga menos a infidelidade masculina, por muito que a sociedade – a de então, a do Código Penal de 1886 ou a de agora – seja mais permissiva em relação ao adultério masculino. Na realidade, aos olhos de Deus, qualquer cônjuge que gravemente incumpra os seus deveres de fidelidade conjugal incorre na mesma culpa, qualquer que seja o seu sexo que, para este efeito, é irrelevante.
Escreveu-se ainda no referido acórdão da Relação do Porto: “Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte”. É verdade: aí estão, por desgraça, os países islâmicos em que a sharia é a lei penal vigente. Mas esta citação, no contexto em que é feita, mais do que condenar tão desumano preceito, parece legitimá-lo, para efeito da desculpabilização do cônjuge agressor. Também há, infelizmente, sociedades em que se pratica a escravatura e até o canibalismo, mas não seria razoável que um magistrado invocasse esses casos para mitigar a culpa de quem incorresse em tão lamentáveis atitudes.
Quanto mais comum é um comportamento criminoso, mais necessário é que a lei seja severa na sua punição: por isso, faz sentido que a lei canónica continue a castigar com a excomunhão o aborto voluntário, mas já não seria lógico que mantivesse essa pena para os duelos, hoje inexistentes. Ora, infelizmente, a violência doméstica está longe de estar erradicada.
“Na Bíblia – acrescenta-se no referido acórdão – podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte”. É verdade que, no Antigo Testamento, previa-se a pena capital para este crime (Lev 20, 20; Deut 22, 21; Ezq 16, 38-40; etc.), mas depois Jesus Cristo, reformando a lei mosaica, revogou essa medida numa das mais belas páginas do Evangelho joanino (Jo 8, 1-11). O que ele não fez, nem permitiu que ninguém fizesse, à mulher adúltera, a todos os cristãos ficou, desde então, interdito, pois só quem nunca tivesse pecado poderia apedrejar um pecador…
Os escribas e fariseus levaram aquela mulher à presença de Jesus de Nazaré, alegando que “foi surpreendida em flagrante delito de adultério” (Jo 8, 4). Ora, mesmo não tendo eu nunca frequentado as modernas aulas de educação sexual, tenho entendido que o adultério não é um acto solitário, pelo que seria de esperar que também fosse apresentado a Jesus o cúmplice masculino. Por que não está presente?! Por que motivo a sanha daqueles escribas e fariseus se abate só sobre a mulher, se o seu cúmplice, com o qual foi apanhada, não só não era menos responsável, como podia ter até mais culpa, se porventura a tivesse seduzido ou forçado?! De facto, é iníqua esta discriminação contra as mulheres, bem como a farisaica condescendência com a culpa masculina, igualmente contrária aos princípios cristãos.
Também à laia de justificação, lê-se no polémico acórdão: “Com estas referências pretende-se, apenas, acentuar que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e por isso vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher. Foi a deslealdade e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguido X cair em profunda depressão e foi nesse estado depressivo e toldado pela revolta que praticou o acto de agressão”. Que o meritíssimo me desculpe mas, assim sendo, não deveria também dizer que foi a adúltera que teve o desplante de pôr a cabeça onde o extremoso marido tinha a moca, com pregos, com que a golpeou?!
O que os escribas e fariseus de há dois mil anos não se atreveram, logrou este acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que não só apedrejou socialmente esta alegada adúltera, como atentou contra a dignidade de todas as mulheres e ofendeu os princípios humanitários do sistema jurídico português. Invocando-se a letra da Bíblia, contradisse-se o seu espírito que é, em Jesus Cristo, o mandamento novo da caridade, que, segundo São Paulo, “tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (1Cor 13, 7). Os Estados não se podem permitir uma tal atitude, mas a sua justiça social nunca pode deixar de reconhecer a imensa dignidade do ser humano: qualquer que seja a sua culpa, cada mulher e homem, mais do que um mero súbdito de César, é imagem e semelhança de Deus.